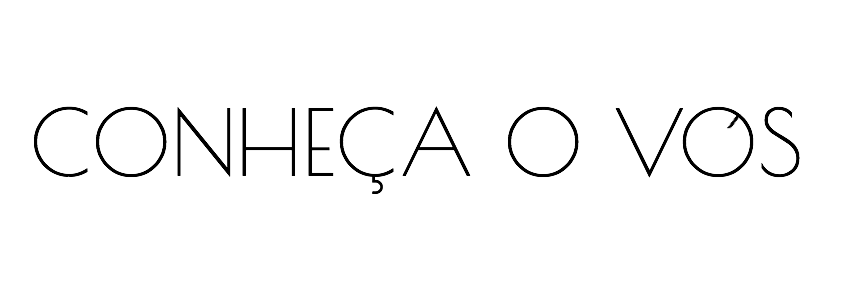Eu não lembro de como eu soube, mas eu entendi rápido. Em algum momento da manhã do dia 27 de janeiro de 2013 – cedo, muito cedo -, depois de tatear à procura do rádio de pilhas e do controle remoto da televisão, eu olhei através do vidro da janela da sala e lá estava: o estado inteiro havia sido tomado por algo que eu só consigo descrever como a materialização da dor.
Fogo. O incêndio da Boate Kiss começou quando o vocalista da banda Gurizada Fandangueira disparou um sinalizador de uso externo dentro do ambiente fechado. A espuma acústica pegou fogo. O local estava superlotado, sem ventilação e só havia uma saída de emergência. Homens com camisetas amarradas no rosto carregavam tantas pessoas quanto conseguiam e tentavam derrubar as paredes com marretas. Os bombeiros foram acionados e chegaram rapidamente, mas não davam conta de controlar a situação a tempo de salvar a todos.
Perplexidade. Era inacreditável que aquilo estivesse acontecendo. Jovens estavam morrendo. Mas quais?
Nomes. Alan, Alexandre, Alex, Alisson, Allana, Anas, André, Andressas, Andrieli, Andrise, Angelo, Ariel, Augustos, Bárbara, Benhur, Bernardo Bibiana, Brady, Brunas, Brunos, Camila, Carolina, Carlitos, Carlos, Cássio, Cecília, Clarissa, Crisley, Cristiane, Daniel, Daniela, Daniele, Danilo, Danrlei, David, Débora, Deives, Diego, Dionatha, Douglas, Dulce, Driele, Elisandro, Emerson, Emili, Ericson, Érika, Evelin, Fábio, Felipe, Fernandas, Fernandos, Flávias, Francieles, Gabrielas, Geni, Gilmara, Giovane, Greicy, Guido, Guilherme, Gustavos, Heitores, Helena, Helio, Henrique, Herbert, Igor, Ilivelton, Isabela, Ivan, Jacob, Jaderson, Janaína, Jennefer, Jéssica, João, Josés, Julia, Julianas, Juliano, Karin, Kellens, Kelli, Larissas, Laureane, Leandra, Leandros, Leonardos, Letícias, Lincon, Louise, Luanas, Lucas, Luciane, Lucianos, Luís, Luisa, Luiz, Luíza, Maicons, Manoeli, Marcelo, Marcos, Marfisa, Maria, Marianas, Mariane, Marinas, Martim, Marton, Matheus, Maurício, Melissas, Merylin, Micheles, Miguel, Mirela, Mônica, Murilos, Natana, Natascha, Nathiele, Neiva, Octacílio, Odomar, Pâmela, Paola, Patrícia, Paulas, Pedros, Priscila, Rafaéis, Rafaela, Raquel, Rhaissa, Rhuan, Ricardos, Robson, Rodrigos, Roger, Rogérios, Rosane, Ruan, Sabrina, Sandras, Shaiana, Silvio, Stefani, Susiele, Taís, Taíse, Tanise, Thailan, Thaís, Thanise, Tiagos, Ubirajara, Vagner, Vanderlock, Vanessa, Victor, Vinícius, Viviane, Vitória, Walter e Wictor.
Incredulidade. Eu conhecia um dos “Roger”, o Roger Dall’agnol. Filho da Nilvete e do Adão. Ela é dona de uma Floricultura na minha cidade, Paraí. A gente não compra flores na Anil, compra na Nilvete. É nesse ponto que a materialização da dor começa a se tornar coletiva, quando as vítimas passam a ter nomes, pais, irmãos, famílias, empregos. Quando os mortos passam a ter vidas.
Amigos. O nome Renata não estava na lista, mesmo assim eu pensei nela, na minha melhor amiga. Ela me telefonou à tarde, eu acho, já exausta. Ela estava de plantão na Rádio Gaúcha naquele final de semana e, se não me engano, viajou à Santa Maria ainda nas primeiras horas da manhã. Ela, jornalista experiente, chorava muito. Assim como eu não via o nome dela replicado, ela imaginava como teria sido reconhecer o meu e chorava, agradecida e assustada. Choramos as duas, abraçadas de longe, materializando na voz a dor de dezenas de amigas que precisaram reconhecer o corpo das suas.
Dor. À época, eu também era repórter da Rádio Gaúcha. A mim coube acompanhar o destino dos sobreviventes hospitalizados na capital, naquele dia e nos meses subsequentes. Era uma tarefa que eu não gostava de cumprir, conversar com as famílias. Era invasivo. Mas, aos poucos, estabeleci uma relação de confiança com alguns dos parentes que eram, pouco a pouco, consumidos pela dor. Foi no Hospital Cristo Redentor que uma mãe pediu pra ser entrevistada. Ela queria falar ao vivo e assim foi.
Eu não sabia o que ela queria dizer, mas o rosto dilacerado pelo pavor indicava uma reação visceral, uma acusação, provavelmente. Talvez clamor por justiça. Mas ao aproximar a boca da espuma do microfone, a expressão facial foi suavizada. Aquela mãe, que já não estava inteira, só pediu uma oração. Só isso. Não cabia mais nada dentro dela além da necessidade de ter vivo o filho de 21 anos. Mas não adiantou. O filho faleceu naquele mesmo dia e o vazio era avassalador. Era a própria tristeza emaranhada na carne daquela mulher, que aos poucos se transformava em uma estátua de sofrimento. A dor se materializava diante dos meus olhos de novo, e de novo, e de novo.
Morte. Eu nunca esqueci aquele dia 27 de janeiro de 2013 e acho que ninguém vai esquecer, mas a Justiça não respondeu. Ninguém foi responsabilizado. Ninguém foi preso. E a materialização da dor jamais será erodida.